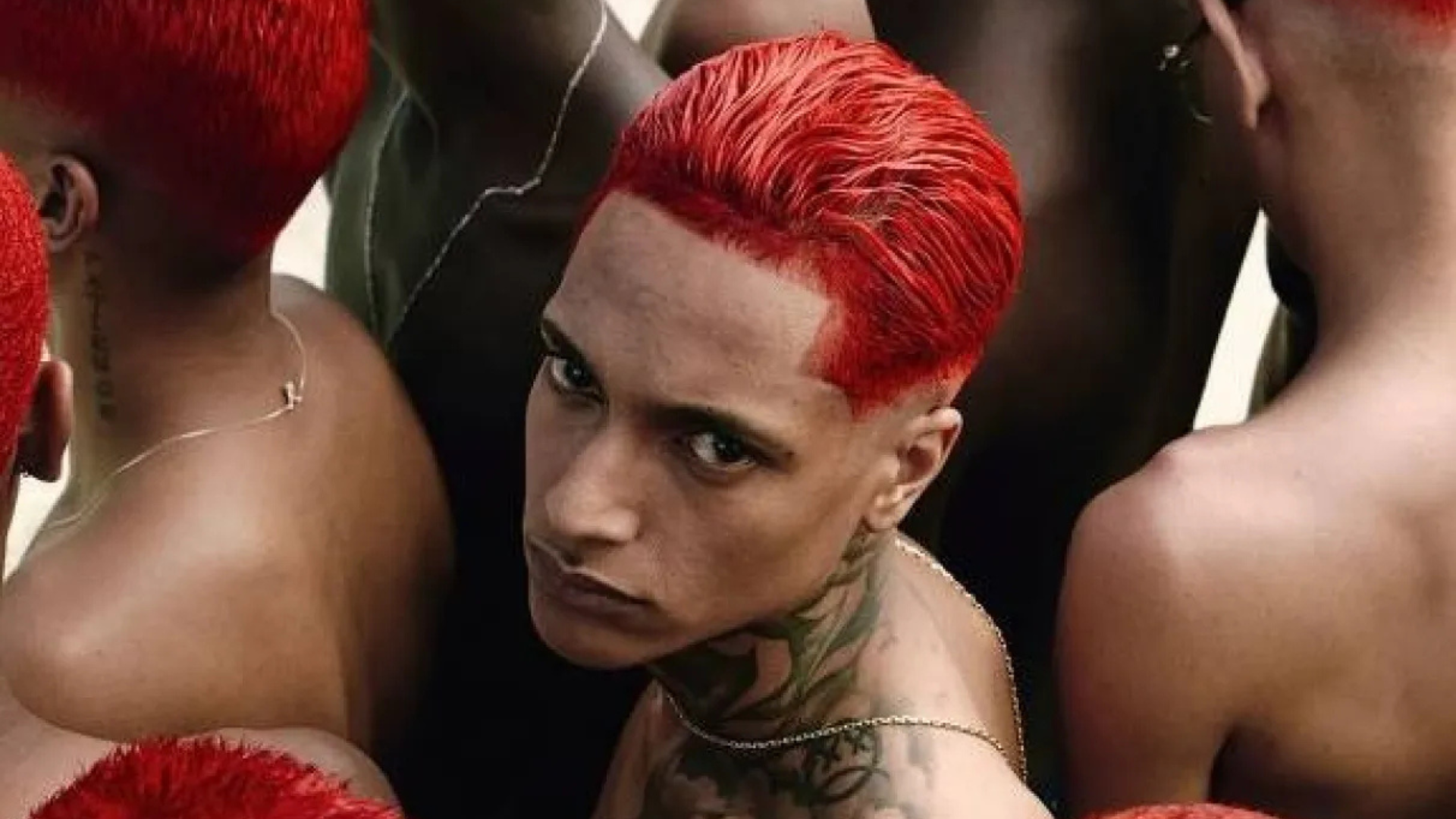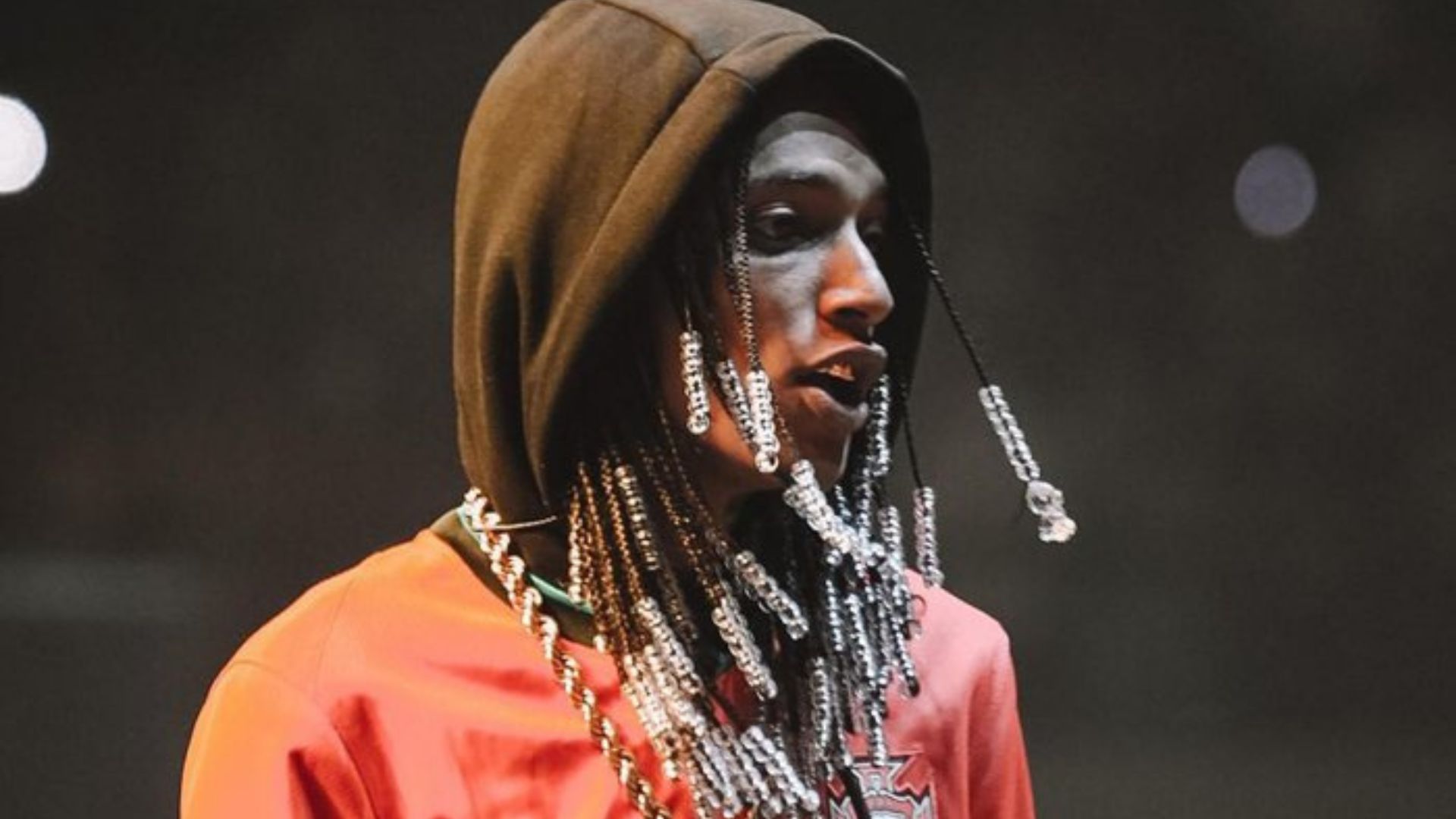Na Idade Média como período teocêntrico, tinha no casamento o objetivo fundamental da preservação da vida por intermédio da procriação em um sistema monogâmico. Desta forma, compreende-se que a família brasileira, como hoje é conceituada, tem suas raízes sob a influência da família romana, da família canônica e da família germânica. É notório que o direito de família brasileiro foi fortemente influenciado pelo direito canônico, como consequência principalmente da colonização portuguesa que trazia consigo os laços do cristianismo. Assim, no que tange aos impedimentos matrimoniais, o Código Civil de 1916 seguiu a linha do direito canônico, preferindo mencionar as condições impeditivas.
Ainda assim, pode-se dizer que com a evolução histórica, cultural e social, o direito de família brasileiro encontrou seu próprio rumo, se adaptando assim a realidade e compreendendo a mutabilidade do comportamento humano, deixando para trás o caráter canonista e dogmático intocável, ao qual vem da base predominantemente conservadora da colonização brasileira.
Assim, destaca Roberta Carvalho Vianna (2011) ao dispor que a Constituição Federal Brasileira de 1988 modificou a conceituação do instituto da família, principalmente quanto ao conceito do poder patriarcal:
Hoje a família não decorre somente do casamento civil e nem é concebida exclusivamente como união duradoura entre homem e mulher. Por força do disposto no parágrafo 4º do artigo 226 da CF, a família é concebida, na sua noção mínima, como a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, abrangendo, também, as outras formas de entidade familiar, como aquela decorrente do casamento civil, do casamento religioso, e da união estável entre o homem e a mulher, nos termos dos outros dispositivos contidos no artigo 226.(VIANNA, 2011)
Sob a mesma ótica ressalta Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf (2010), no resumo de seu projeto de doutorado, o qual foi denominado de “Novas modalidades de família na pós-modernidade”:
Na evolução histórica da família, além da família tradicional, formada pelo casamento, a introdução de novos costumes e valores, a internacionalização dos direito humanos, a globalização, o respeito do ser humano, tendo em vista sua dignidade e os direitos inerentes à sua personalidade, impôs o reconhecimento de novas modalidades de família.(MALUF, 2010. p. 5)
Desta forma, se compreende que ambas as autoras citadas falam da felicidade, da liberdade e do afeto como meios essências e suficientes para auto composição do núcleo familiar. A evolução constante da sociedade ao longo de sua história proporcionou outras formas de constituição de família, a prova de tal evolução se demonstra na própria Carta Magna que reconhece em seu artigo 226, §§ 3º e 4º, como entidade familiar a União Estável e a Família Monoparental. Assim, se torna possível compreender a evolução dos conceitos de família, que como foi demonstrado desde a civilização grega até a sociedade brasileira atual, teve suas abrangências alteradas e reformulados face aos costumes, afinal, o direito nada mais é do que o reflexo dos hábitos cotidianos de uma sociedade.
Mas para se perceber tal alteração no conceito de família no Brasil, não é preciso retroceder muito na história, pois no Código Civil de 1916 a família só era considerada a entidade formada por um homem e por uma mulher através do casamento, situação que o Código Civil de 2002, já remodelou em seu artigo 1.723, dispondo em seu texto jurídico-legal que: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” Desta forma, cabe expor as modalidades familiares previstas no ordenamento jurídico e na sociedade brasileira, conjuntamente com aquelas que estão inseridas no meio social, mas ainda não encontram respaldo jurídico-legal.
1 | FAMÍLIA MATRIMONIAL
Essa modalidade de família vigorou como a única existente no Brasil até a Constituição Federal de 1988, sendo esta modalidade conceituada como aquela proveniente do casamento, na qual os indivíduos ingressavam por vontade própria, sendo nulo o matrimônio realizado mediante a coação.
A respeito do conceito e dos fins do matrimônio, dispõe Maria Helena Diniz (2012) em sua obra “Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de Família” que:
É o casamento a mais importante e poderosa de todas as instituições de direito privado, por ser uma das bases da família, que é a pedra angular da sociedade. Logo, o matrimônio é a peça-chave de todo sistema social, constituindo o pilar do esquema moral, social e cultural do país.(DINIZ, 2012. p. 51)
Desta forma, pode-se dizer que, a família matrimonial nada mais é que aquela que se constitui através do ato matrimonial, ou seja, do casamento. Desta forma, deve-se depreender-se que o matrimônio não é apenas a formalização ou legalização da união sexual, mas, como dispõe Maria Helena Diniz “a conjunção de matéria e espírito de dois seres de sexo diferente para atingirem a plenitude do desenvolvimento de sua personalidade através do companheirismo e do amor”. Assim, se pode compreender que esta união se formara através do afeto, e com ressalvas, se adverte que o casamento não ocorre mais apenas entre um homem e uma mulher como dispõe o Código Civil de 2002 em seu artigo 1.514: “O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados”, assim, o ordenamento jurídico brasileiro já admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, conforme Resolução 175 de maio de 2013 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça que determina em todo o País o registro desses casamentos nos cartórios de registro civil das pessoas naturais, estas relações são denominadas de homoafetivas.
Através da formação deste núcleo familiar, as partes que o constituem aderem a princípios e fins um para com o outro, sendo que a procriação dos filhos que faz parte de uma consequência lógica e natural, não é essencial ao matrimônio como dispõe o artigo 226, § 7º da Constituição Federal ao expor que “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal”.
Quanto a natureza jurídica do casamento, Maria Helena Diniz (2012) dispõe que:
A concepção institucionalista vê no matrimônio um estado em que os nubentes ingressam. O casamento é tido como uma grande instituição social, refletindo uma situação jurídica que surge da vontade dos contratantes, mas cujas normas, efeitos e forma encontram-se preestabelecidos pela lei. As partes são livres, podendo cada uma escolher o seu cônjuge e decidir se vai casar ou não; uma vez acertada a realização do matrimônio, não lhes é permitido discutir o conteúdo de seus direitos e deveres, o modo pelo qual se dará a resolubilidade do vínculo conjugal ou as condições de matrimonialidade da prole, porque não lhes é possível modificar a disciplina legal de suas relações; tendo uma vez aderido ao estado matrimonial, a vontade dos nubentes é impotente, sendo automáticos os efeitos da instituição por serem de ordem pública ou cogentes as normas que a regem, portanto iniludíveis por simples acordo dos cônjuges. O estado matrimonial é, portanto, um estado imperativo preestabelecido, ao qual os nubentes aderem. Convém explicar que esse ato de adesão dos que contraem matrimônio não é um contrato, uma vez que, na realidade, é a aceitação de um estatuto tal como ele é, sem qualquer liberdade de adotar outras normas.(DINIZ, 2012. p. 55)
Nessa controvérsia, se pode afirmar que a doutrina é eclética quanto ao assunto, pois esta une os elementos volitivos aos elementos institucionais, tornando o casamento um ato complexo, pois será conceituado como um contrato em sua formação, ao mesmo tempo que será conceituada como instituição em seu conteúdo. Quanto ao conteúdo institucional do casamento, cita-se o artigo 1.566 do Código Civil de 2002, que em seu texto traz os direitos e deveres dos cônjuges, os quais não podem ser ignorados ou desfeitos pela mera vontade das partes: “Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: I – fidelidade recíproca; II – vida em comum, no domicílio conjugal; III – mútua assistência; IV – sustento, guarda e educação dos filhos; V – respeito e consideração mútuos”.
Em síntese, a família matrimonial será aquela unida através do casamento, entre duas pessoas com desejo de constituir um vínculo familiar fundado no afeto e no respeito mútuo.
2 | UNIÃO ESTÁVEL
A união estável e o casamento já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal como iguais em valor jurídico para a herança. Desta forma, cabe-se expor que tal modalidade foi reconhecida como núcleo familiar através da Constituição Federal de 1988, a qual determinou que: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado: § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.
No mesmo sentido, em 10 de maio de 1996 surgiu a Lei nº 9.278, afins de regular o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, determinando em seu artigo 1º que, “É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”.
Entretanto, tal modalidade familiar que só era permitida entre um homem e uma mulher como dispunha o ordenamento jurídico brasileiro, passou por uma revisão necessária, e assim no ano de 2011 o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a união estável poderia acontecer entre pessoas do mesmo sexo, dando assim proteção jurídica e social aos relacionamentos homoafetivos. Neste sentido, disponibilizou o Supremo Tribunal Federal em seu site oficial um texto que trata da relação homoafetiva na união estável, o título deste é “União homoafetiva como entidade familiar”:
União homoafetiva como entidade familiar – 1: A norma constante do art. 1.723 do Código Civil brasileiro (“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”) não obsta que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser reconhecida como entidade familiar apta a merecer proteção estatal. Essa foi a conclusão da Corte Suprema ao julgar procedente pedido formulado em duas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas, respectivamente, pelo Procurador-Geral da República e pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro. Prevaleceu o voto do Ministro Ayres Britto, relator, que deu interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1.723 do Código Civil para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. O relator asseverou que esse reconhecimento deve ser feito de acordo com as mesmas regras e com as mesmas conseqüências da união estável heteroafetiva. Enfatizou que a Constituição veda, expressamente, o preconceito em razão do sexo ou da natural diferença entre a mulher e o homem, o que nivela o fato de ser homem ou de ser mulher às contingências da origem social e geográfica das pessoas, da idade, da cor da pele e da raça, na acepção de que nenhum desses fatores acidentais ou fortuitos se coloca como causa de merecimento ou de desmerecimento intrínseco de quem quer que seja. Afirmou que essa vedação também se dá relativamente à possibilidade da concreta utilização da sexualidade, havendo um direito constitucional líquido e certo à isonomia entre homem e mulher: a) de não sofrer discriminação pelo fato em si da contraposta conformação anátomofisiológica; b) de fazer ou deixar de fazer uso da respectiva sexualidade; e c) de, nas situações de uso emparceirado da sexualidade, fazê-lo com pessoas adultas do mesmo sexo, ou não.(Supremo Tribunal Federal, 2011)
Desta forma, para conseguir se distinguir as diferenças entre o casamento e a união estável deve-se compreender que, o casamento é um ato solene e formal, tendo uma série de pré-requisitos que devem ser observados para a sua constituição, tais como a publicação dos proclamas e os prazos para as impugnações; quanto a união estável, esta surgiu com caráter informal, sem a necessidade dos pré-requisitos do casamento, sendo que tal união pode ocorrer mesmo sem as partes se apresentarem perante um cartório de registro, o que direciona estes indivíduos é a intenção de viverem juntos com uma ou várias perspectiva em comum. Sendo assim, as consequências jurídicas tanto do casamento quanto da união estável são as mesmas, sendo que já foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil de 2002, o qual dava tratamento desigual a companheira.
Assim, quanto a união estável, mesmo esta tendo caráter informal, as partes ainda podem se direcionar até um cartório de registro civil e efetuar uma declaração de convivência de união estável, dispondo da data de início e o regime matrimonial, sendo que, no silêncio das partes ao se unirem em matrimonio, não dispondo do regime de bens a ser adotado, irá vigorar o de comunhão parcial de bens.
Quanto ao conceito de união estável, este é uma união pública (a sociedade deve os ver como viventes, ou seja, marido e mulher fossem), sendo contínua (isso significa que as partes ficam/ficaram um longo período juntos sem ocorrer separações) e duradoura (um critério subjetivo o qual o juiz deferirá), sendo o elemento basilar desta união o objetivo de constituir família, sendo este por fim o que irá diferenciar tal união do namoro. Todos estes conceitos estão presentes no artigo 1.723 do Código Civil, que por sua vez dispõe que: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
Desta forma, o requisito da coabitação é subjetivo, pois as partes podem viver em ambientes separados e ainda assim ter a união estável, enquanto outros podem viver juntos e estarem sob a ótica do namoro, em ressalvas, existe também a possibilidade de ocorrer um contrato de namoro. Mas, o que realmente importa para se figurar a união estável é o projeto de vida em comum, este elemento subjetivo que faz menção ao próprio artigo 1.723 do Código Civil e traz em si o diferencial que qualifica um relacionamento como união estável ou não.
Sob a ótica da igualdade assegurada a união estável em relação ao casamento, dispõe a jurisprudência que:
Ementa: Direito Constitucional e Civil. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Inconstitucionalidade da Distinção de Regime Sucessório entre Cônjuges e Companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição. 3. Assim sendo, o art. 1.790 do Código Civil, ao revogar as Leis 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou companheiro), dando-lhes direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação de retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002. (STF, REx, nº 878694-MG. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Pleno J. 31.08.2016). Decisão confirmada em maio de 2017.
Assim, através do Julgamento do Recurso Extraordinário nº 878. 94 de Minas Gerais, pelo Supremo Tribunal Federal, se determinou a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, acabando desta forma com a desigualdade que havia entre casamento e a união estável, em matéria sucessória, determinando-se a aplicação do art. 1.829 do Código Civil, em ambos os casos.
3 | FAMÍLIA MONOPARENTAL
Família Monoparental, esta modalidade se constitui por intermédio de um dos genitores e sua prole, vigorando assim nesse caso, um vínculo de parentesco de ascendência e descendência. Tal modalidade familiar foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988, que em seu texto colocava a família como a base da sociedade, e para tanto devia ser protegida pelo Estado, acrescentando desta forma que toda a comunidade formada por qualquer um dos genitores e seus descendentes vigoraria como entidade familiar. (Artigo 226, § 4º da Constituição Federal de 1988).
Neste sentido, Marco Aurélio da Silva Viana (1998 apud VIANNA, 2011) dispõe:
A Constituição Federal limita-se a dizer que reconhece como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Não faz qualquer distinção, o que inibe o intérprete. Nesse conceito está inserida qualquer situação em que um adulto seja responsável por um ou vários menores. Isso permite concluir que ela pode ser estabelecida desde sua origem, ou decorre do fim de uma família constituída pelo casamento. Neste diapasão é possível que ela estabeleça porque a mãe teve um filho, mas a paternidade não foi apurada, ou porque houve adoçào, ou pode resultar da separação judicial ou do divórcio. Nessa linha temos a família monoparental formada pelo pai e o filho, ou pela mãe e o filho, sendo que nos exemplos há o vínculo biológico, ou decorre da adoção por mulher ou homem solteiro. Nada impede que o vínculo biológico que une os membros dessa família, não decorra de congresso sexual, mas resulte da procriação artificial. A mãe solteira submete à inseminação artificial, não sabendo quem seja o doador.(VIANA, 1998 apud VIANNA, 2011. p. 7)
Desta forma, a família monoparental pode resultar da viuvez, da separação judicial, do divórcio, da extinção de uniões e, também, pela adoção por pessoas solteiras; afinal, tal modalidade se caracteriza pela presença de um único genitor e sua prole.
4 | FAMÍLIA ADOTIVA
O instituto da adoção transcorreu por inúmeras mudanças no decorrer da evolução social humana. Em fases mais antigas desta sociedade, em períodos como o da Roma Antiga, a adoção tinha apenas um caráter religioso, se findando mais na busca de manter a continuidade da família, evitando a morte de um indivíduo sem que este deixasse descendentes, afinal, o bem-estar da criança ou do adolescente não tinha importância tão grande quanto a de dar prosseguimento aos ascendentes. Neste sentido, Valdir Sznick (1999 apud ALMEIDA, 2017):
Desde os antigos, o instituto da adoção foi conhecido e usado; verdade é que o instituto não possuía a configuração como conhecemos hoje. Adoção, contrato pelo qual o adotante se constitui, por meio legal, pai do adotado, com maior ou menor amplitude, era conhecida dos antigos e tinha uma função específica, como a da perpetuação dos deuses e do culto familiar, com os ritos e oferendas. Vê-se, in casu, especialmente, o culto dos deuses familiares como um fim que devia ser perpetuado.(SZNICK, 1999 apud ALMEIDA, 2017)
Sob esta ótica, a adoção no Brasil, prevista no Código Civil de 1916, considerava primeiro os interesses do adotante, os quais eram analisados no ato da adoção, sendo posteriormente observado os interesses do adotado. Nessa fase, somente casais que não tinham como gerar prole eram permitidos adotar, sendo imposto uma faixa etária mínima de cinquenta anos de idade para o adotante. Quanto ao adotado, este não era integrado totalmente a família adotante, vez que continuava vinculado aos seus parentes consanguíneos, sendo somente que somente o pátrio poder era transferido no ato da adoção, o que se encontrava codificado nos artigos 368 a 378 do Código Civil de 1916.
Com o advento da lei nº 3.133 de 5 de agosto de 1957, o pensamento principal de que a adoção estava ligada a casais em idade avançada que não poderiam constituir prole deixou de ser único, vez que tal lei passou a pensar nos interesses do adotado, e assim, começou a proporcionar a chance de crianças e adolescentes órfãos ingressarem em um núcleo familiar.
Esta lei trouxe mudanças significativas, possibilitando a pessoas acima de trinta anos de idade pudessem adotar, independentemente de já possuírem ou não filhos consanguíneos. Outra mudança vinda foi que, casais que comprovassem terem mais de cinco anos de casados também podiam adotar, sendo que, ao adotado foi possibilitado a chance de desligar-se da família adotante após completar a maior idade, ou seja, esta lei também trouxe a revogabilidade da adoção por parte do adotado.
Com o advento da lei nº 4.655 de 2 de junho de 1965, a questão do afeto como fonte de extremada importância no vínculo afetivo se fez notar, vez que, se criou a legitimação adotiva, a qual vinculava de parentesco o adotante e o adotado, permitindo que o menor adotado se desvinculasse de seus parentes consanguíneos, o que denota a força da afetividade quando deparada com a consanguinidade.
Em 10 de outubro do ano de 1979 se concretizou mais um avanço na adoção no Brasil se instituindo o Código de Menores, passando assim a criança e o adolescente adotados a integrarem definitivamente o seio familiar adotante. Neste sentido, o adotado passou a ser considerado como filho biológico do adotante, estando desvinculado assim dos parentescos da família natural.
Entretanto, os filhos adotivos só foram equiparados aos naturais após a Constituição Federal e 1988, a qual codificou o dever da família, da sociedade e do estado na busca de assegurar com absoluta prioridade os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e comunitária das crianças, dos adolescentes e dos jovens, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Artigo 227 da Constituição Federal de 1988)
Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 1990, surgiu a ferramenta essencial para a proteção dos menores incapazes no ordenamento jurídico.
Quanto a adoção, Maria Helena Diniz (2011 apud ALMEIDA, 2017) dispõe que:
A adoção vem a ser o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha.(DINIZ, 2011 apud ALMEIDA, 2017)
Roberto Carlos Gonçalves (2010. p. 362) argumenta que: “Adoção é o ato jurídico solene pelo qual alguém recebe em sua família, na qualidade de filho, pessoa a ela estranha”. Desta forma, pode-se dizer que a adoção rompe as barreiras da desconfiança, na qual pessoas desconhecidas entre si formam uma família sem qualquer ligação anterior.
Sobre o tema, o artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 codifica que: “A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais”.
Sobre o assunto, Paulo Luiz Netto Lôbo (2009) argumenta que:
O princípio do melhor interesse significa que a criança – incluído o adolescente, segundo a Convenção Internacional dos Direitos da Criança – deve ter seus interesses tratados com prioridade, pelo Estado, pela sociedade e pela família, tanto na elaboração quanto na aplicação dos direitos que lhe digam respeito, notadamente nas relações familiares, como pessoa em desenvolvimento e dotada de dignidade.(LÔBO, 2009. p. 53)
Por fim, se ressalva que a adoção é um ato jurídico, solene e complexo, no qual se criam relações análogas ou idênticas às decorrentes da filiação legítima, se igualando o adotado em todos os fins afetivos e jurídicos dos filhos naturais.
5 | FAMÍLIA HOMOAFETIVA
A palavra homossexual tem sua formação derivada do grego, tendo o sufixo homo o significado de semelhante ou igual, assim, o termo homoafetivo ou homossexual representa o interesse afetivo e sexual por um indivíduo do mesmo sexo, neste caso, um semelhante de gênero.
Entretanto, mesmo tal ato estando no meio social humano desde os mais remotos tempos, a prática da homossexualidade foi repudiada e caracterizada como doença durante vários anos na fase moderna da sociedade, sendo que o mesmo já esteve descrito dentro do Código Internacional de Doenças – CID, conforme descreve Larissa Mascotte (2009):
Assim como na sociedade, no campo científico, o conceito de homossexualismo também sofreu alteração. Em 1985, deixou de constar a homossexualidade no art. 302 do Código Internacional das Doenças – CID – como uma doença mental. Na última revisão, de 1995, o sufixo “ismo”, que significa doença, foi substituído pelo sufixo “dade”, que significa modo de ser.(MASCOTTE, 2009)
Neste viés, quanto a sexualidade, dispõe Maria Berenice Dias (2010):
A sexualidade integra a própria condição humana. É um direito fundamental que acompanha o ser humano desde o seu nascimento, pois decorre de sua própria natureza. Como direito do indivíduo, é um direito natural, inalienável e imprescritível. Ninguém pode realizar-se como ser humano se não tiver assegurado o respeito ao exercício da sexualidade, conceito que compreende a liberdade sexual e a liberdade da livre orientação sexual. O direito a tratamento igualitário independe da tendência sexual. A sexualidade é um elemento integrante da própria natureza humana e abrange a dignidade humana. Todo ser humano tem o direito de exigir respeito ao livre exercício da sexualidade. Sem liberdade sexual, o indivíduo não se realiza, tal como ocorre quando lhe falta qualquer outro direito fundamental.(DIAS, 2010)
Sendo assim, foi instituído pela Carta Magna o respeito à dignidade humana, se creditando que, todos os modos de relacionamentos afetivos, independente da identificação do sexo do par, são protegidos pelo Estado. Mesmo que o conceito de família esteja ligado as relações interpessoais entre um homem e uma mulher tento por base o afeto, a doutrina e a jurisprudência já reconhecem a possibilidade de uniões diferentes da pré-estabelecida no Código Civil, afinal, se conceitua o afeto como o mecanismo mais importante no elo de ligação dos membros que compõe um núcleo familiar.
Neste viés, cabe ressaltar que foi aprovada na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) na data de 03 de maio de 2017, o Projeto de Lei do Senado nº 612, de 2011 que altera os arts. 1.723 e 1.726, do Código Civil, para permitir o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Ademais, a Resolução nº 175 de 14 de maio de 2013, que dispunha sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo; contribuiu conjuntamente para derrubar barreiras administrativas e jurídicas que dificultavam as uniões homoafetivas no país. Desta forma, está modalidade de constituição matrimonial já é prevista no atual ordenamento jurídico.
6 | FAMÍLIA ANAPARENTAL
A modalidade familiar anaparental é aquela constituída sem a presença dos genitores, mas, estruturada pela convivência entre parentes ou pessoas em um mesmo lar, estruturando-se sob uma ótica familiar. Sob o tema, dispõe Tauã Lima Verdan Rangel (2017):
Ora, em uma família anaparental consiste em uma modalidade pluriparental, ou seja, advém da colateralidade de vínculos, sendo, assim, composta por vários irmãos ou, ainda, entre tios e sobrinhos, duas primas, dentre tantas e inimagináveis variáveis possíveis para sua concreção.(RANGEL, 2017)
Assim, os motivos que ligam estes indivíduos em um núcleo familiar são diversos, deste o já citado inúmeras vezes afeto, até os interesses semelhantes, ou o compartilhamento de ideias e ideais, as questões sociais e financeiras, ou a solidariedade psicológica; enfim, são inúmeras as razões que desenvolvem o desejo dos indivíduos de viver em família e os proporcione a capacidade de se anexar a estas. Desta forma, é inevitável dizer que todos estes motivos geram valores familiares, que por sua vez são a base de uma sociedade estruturada, afinal, é dentro da família que um indivíduo adquire personalidade e se desenvolve como ser humano.
Neste sentido, cabe expor que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático, reconheceu a família anaparental, equiparando-a as demais modalidades já protegidas pelo Ordenamento Jurídico, como demonstra a jurisprudência abaixo:
Ementa: Civil. Processual Civil. Recurso Especial. Adoção póstuma. Validade. Adoção conjunta. Pressupostos. Família Anaparental. Possibilidade. Ação anulatória de adoção post mortem, ajuizada pela União, que tem por escopo principal sustar o pagamento de benefícios previdenciários ao adotado – maior interdito –, na qual aponta a inviabilidade da adoção post mortem sem a demonstração cabal de que o de cujus desejava adotar e, também, a impossibilidade de ser deferido pedido de adoção conjunta a dois irmãos. A redação do art. 42, § 5º, da Lei 8.069/90 – ECA –, renumerado como § 6º pela Lei 12.010/2009, que é um dos dispositivos de lei tidos como violados no recurso especial, alberga a possibilidade de se ocorrer a adoção póstuma na hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento de adoção, e a constatação de que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu desejo de adotar. Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do menor como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. O art. 42, § 2º, do ECA, que trata da adoção conjunta, buscou assegurar ao adotando a inserção em um núcleo familiar no qual pudesse desenvolver relações de afeto, aprender e apreender valores sociais, receber e dar amparo nas horas de dificuldades, entre outras necessidades materiais e imateriais supridas pela família que, nas suas diversas acepções, ainda constitui a base de nossa sociedade. A existência de núcleo familiar estável e a consequente rede de proteção social que podem gerar para o adotando, são os fins colimados pela norma e, sob esse prisma, o conceito de núcleo familiar estável não pode ficar restrito às fórmulas clássicas de família, mas pode, e deve ser ampliado para abarcar uma noção plena de família, apreendida nas suas bases sociológicas. Restringindo a lei, porém, a adoção conjunta aos que, casados civilmente ou que mantenham união estável, comprovem estabilidade na família, incorre em manifesto descompasso com o fim perseguido pela própria norma, ficando teleologicamente órfã. Fato que ofende o senso comum e reclama atuação do interprete para flexibilizá-la e adequá-la às transformações sociais que dão vulto ao anacronismo do texto de lei. O primado da família socioafetiva tem que romper os ainda existentes liames que atrelam o grupo familiar a uma diversidade de gênero e fins reprodutivos, não em um processo de extrusão, mas sim de evolução, onde as novas situações se acomodam ao lado de tantas outras, já existentes, como possibilidades de grupos familiares. O fim expressamente assentado pelo texto legal – colocação do adotando em família estável – foi plenamente cumprido, pois os irmãos, que viveram sob o mesmo teto, até o óbito de um deles, agiam como família que eram, tanto entre si, como para o então infante, e naquele grupo familiar o adotado se deparou com relações de afeto, construiu – nos limites de suas possibilidades – seus valores sociais, teve amparo nas horas de necessidade físicas e emocionais, em suma, encontrou naqueles que o adotaram, a referência necessária para crescer, desenvolver-se e inserir-se no grupo social que hoje faz parte. Nessa senda, a chamada família anaparental – sem a presença de um ascendente -, quando constatado os vínculos subjetivos que remetem à família, merece o reconhecimento e igual status daqueles grupos familiares descritos no art. 42, §2, do ECA. Recurso não provido. (Superior Tribunal de Justiça – Terceira Turma/ REsp 1.217.415/RS/ Relatora: Ministra Nancy Andrighi/ Julgado em 19 jun. 2012/ Publicado no DJe em 28 jun. 2012).
Desta forma, a convivência de pessoas e parentes sob o mesmo teto oferendo entre os membros uma estrutura com identidade de propósito pautada na constituição de uma família, com assistência material e emocional, vigorando como uma rede de proteção social afins de proporcionar aos seus todas as oportunidades essenciais ao crescimento através dos propósitos compartilhados, são características essenciais ao núcleo familiar, e por estarem inseridas na unidade anaparental, esta encontrou sua legalização no ordenamento jurídico.
7 | FAMÍLIA UNIPESSOAL
Uma das modalidades de família mais diferenciadas é a unipessoal, afinal, esta se constitui com a presença de um único membro, seja este solteiro, separado, divorciado ou viúvo. Afinal, com o intuito de alcançar a finalidade social da lei, o Supremo Tribunal de Justiça ampliou o conceito de família, para assim permitir abranger a entidade familiar unipessoal.
Neste viés, dispõe a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PESSOA SOLTEIRA. ENTIDADE FAMILIAR. NÃOCOMPROVAÇÃO DO BEM COMO ÚNICO IMÓVEL NO PATRIMÔNIO DA PARTE. São impenhoráveis os bens de família, na forma do art. 1º da Lei 8009/90, entendendo-se como bem de família o único imóvel adquirido pelo casal ou entidade familiar para fins de residência permanente. A jurisprudência dominante no ordenamento jurídico, consubstanciada na Súmula 364/STJ, entende que a pessoa solteira, ou a que mora sozinha, constitui unidade familiar, para fins de caracterização do imóvel como bem de família. Constituindo-se a pessoa solteira ou que mora sozinha como entidade familiar, ilegal se torna a execução que recai sobre seu imóvel residencial. Nesse sentido, entende-se por imóvel residencial a única propriedade utilizada pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (art. 5º da Lei 8009/90). Portanto, a pessoa solteira, considerada pela jurisprudência como entidade familiar, possui a prerrogativa da impenhorabilidade de seu imóvel residencial, desde que a referida residência seja comprovadamente o único imóvel destinado à moradia em seu patrimônio. Consignando o Tribunal Regional, contudo, que não há nos autos a comprovação de que a residência sobre a qual recai a execução seja utilizada como moradia permanente, não se há falar em impenhorabilidade do bem, nem em violação do direito à moradia insculpido no art. 6º da CF. Assim, ainda que por fundamento diverso do utilizado pelo Tribunal Regional, não merece prosseguimento o recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido. (TST – AIRR: 2054 2054/1998-050-01-40.8, Relator: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 25/11/2009, 6ª Turma, Data de Publicação: 04/12/2009)
Desta forma, pode-se arguir da premissa que, o principal intuito desta modalidade de família está ligada a proteção do bem de família, motivo pelo qual dispõe a Súmula 364 do Supremo Tribunal de Justiça, “O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”. Assim, entende a doutrina e a jurisprudência que, uma única pessoa pode sim ser caracterizada como entidade familiar, e como tal, terá os seus direitos e deveres resguardados.
8 | FAMÍLIA PLURIPARENTAL
A família pluriparental, também denominada de família composta ou mosaico, consististe na construção de outras famílias, a partir da junção de genitores para com sua prole, separados judicialmente, que se vinculam a uma nova entidade familiar por intermédio de uma nova união estável ou casamento. Neste viés, dispõe Maria Berenice Dias (2013):
A multiplicidade de vínculos, a ambiguidade dos compromissos e a interdependência, ao caracterizar a família mosaico, conduzem para a melhor compreensão desta moldagem. A especificidade decorre da peculiar organização do núcleo, reconstruído por casais onde um ou ambos são egressos de casamento ou uniões anteriores. Eles trazem para a nova família seus filhos e muitas vezes, têm filhos em comum.(DIAS, 2013. p. 57)
No mesmo sentido, dispõe Jussara Suzi Assis Borges Nasser Ferreira e Konstanze Rörhmann (2006. p. 258) ao disporem que, tais entidades familiares possuem uma estrutura muito complexa em face da multiplicidade de vínculos e da ambiguidade de funções dos novos casais conjuntamente com o forte grau de interdependência; assim, neste núcleo familiar se tem o acréscimo de hábitos e experiências advindas de relações familiares afetivas anteriores, as quais se moldam e transformam, gerando uma nova relação afetiva entre os membros e sua nova comunidade familiar.
Outra peculiaridade deste núcleo familiar reside na possibilidade de alteração posterior do nome, ou seja, se o enteado ou a enteada desejarem aderir ao sobrenome do padrasto ou da madrasta, com a concordância destes, isto poderá ser feito, desde que não afete os apelidos de família.(Artigo 57 da Lei 6.015, de 31 de Dezembro de 1973)
Desta forma, a afetividade é o elo mais forte que existe entre os indivíduos, afinal, são eles que mantém a família unida por intermédio do amor, do respeito e da solidariedade. Não se atenta a diminuir a importância dos laços consanguíneos, entretanto, o afeto é o instrumento que liga os indivíduos, e desta forma, o elemento mais importante na constituição da família, prova isso a frase popular de que “pai é quem cuida”, motivo pelo qual já se entende possível o enteado colocar o nome do pai padrasto (o mesmo vale para a mãe madrasta) na certidão de nascimento da criança, podendo assim aderir ao status de filho.
9 | FAMÍLIA PARALELA
Esta modalidade de família, não é aceita e protegida pelo Estado, mesmo não se tratando de um novo arranjo familiar, estas tendem a serem ignoradas pela sociedade face as suas excentricidades, entretanto, já existem muitas famílias que aderem a tal modalidade, e que neste viés buscam a sua regularização perante a lei.
Sobre este modelo familiar, pode-se dispor que consiste em um indivíduo compor duas ou mais entidades familiares ao mesmo tempo, assim como exemplo, se pode considerar um homem que possui duas esposas em dois núcleos familiares distintos no mesmo momento. Para Renata Barbosa de Almeida e Walsir Edson Rodrigues Júnior (2010), o grande obstáculo de tal modelo familiar consiste em romper os parâmetros sociais voltados a monogamia.
Neste viés, pode-se dispor que tal modalidade familiar atenta contra os princípios da bigamia, este exposto no art. 235 do Código Penal, o qual conceitua como crime contra a família e o casamento “Contrair com alguém, sendo casado, novo casamento”. Entretanto, se analisado tal código jurídico, se compreende que este relata uma realidade divergente da atual, afinal, a sociedade que o escreveu e o fez vigorar em seu nascimento no ano de 1940, não é mais a mesma.
Entretanto, por mais que a simultaneidade das famílias seja uma realidade merecedora de reconhecimento como qualquer outra entidade familiar que esteja vinculada no meio público e social, e demonstre conter todos os pressupostos necessários para a constituição de um núcleo familiar, ou seja, a afetividade, a continuidade, a durabilidade e os objetivos de constituir família; ainda assim, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é majoritário e contra, ou seja, os princípios da monogamia ainda servem como instrumento socialmente atrasado, mas eficaz na proibição da conjugalidade concomitante.
Neste sentido dispõe a jurisprudência:
EMENTA: RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PESSOA CASADA – SEPARAÇÃO DE FATO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS FÁTICOS/LEGAIS – AUSÊNCIA – NÃO RECONHECIMENTO. – A Constituição Federal de 1988 e o atual Código Civil reconhecem e protegem a união estável entre homem e mulher, configurada a convivência duradoura, pública e contínua, e o objetivo de constituição de família. No entanto, a nossa Constituição consagra a monogamia como um dos princípios norteadores da proteção da entidade familiar e do casamento. Isso impede o reconhecimento jurídico de um relacionamento afetivo paralelo a este instituto jurídico. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0540.07.009030-8/001 – COMARCA DE RAUL SOARES – APELANTE (S): C.L.S. – APELADO (A) (S): M.L.S.S. E OUTRO (A) (S), HERDEIROS DE L.B.S. – RELATOR: EXMO. SR. DES. GERALDO AUGUSTO
Quanto ao tratamento dos tribunais para com as famílias paralelas, pode-se dizer que estes tendem a se posicionar de forma contrária a tal modalidade familiar. Entretanto, Maria Berenice Dias (2010. p. 51), se coloca favorável quanto a tal entidade familiar, dispondo que: “negar a existência de famílias paralelas – quer um casamento e uma união estável, quer duas ou mais uniões estáveis – é simplesmente não ver a realidade”.
Para formular tal entendimento, Carlos Eduardo Pianovski Ruzik (2013) dispõe a respeito da boa-fé:
A boa-fé, como significante, aplica-se a duas circunstâncias distintas, embora não excludentes: a primeira diz respeito a um estado de ignorância acerca de uma dada situação; a segunda se refere a um princípio que determina certos deveres de conduta. A primeira hipótese, da boa-fé como estado, é denominada boa-fé subjetiva; a segunda, em que a boa-fé é tomada como princípio, é denominada boa-fé objetiva. O direito alemão distingue com clareza as duas espécies, adotando terminologia diversa: a boa-fé objetiva é denominada “Treu und Glauben”, ao passo que a boa-fé subjetiva é denominada “Gutten Glaube”.(RUZIK, 2013. p. 17)
Assim, se a família paralela for constituída sobre as premissas da boa-fé objetiva, a qual consiste em determinar deveres de conduta, e não na boa-fé objetiva que se refere a própria ignorância; o reconhecimento desta modalidade familiar é perfeitamente possível, pois o vínculo estará atrelado de forma leal.
Desta forma, cabe a cada indivíduo escolher a forma de família que pretende adotar. Sendo que, após está escolha, se optar pela família paralela (também chamada de simultânea), deverá arcar com os pressupostos da boa-fé objetiva, quais sejam, a transparência da formação dos demais vínculos familiares, cumprindo com os princípios da publicidade, da continuidade e da durabilidade.
10 | FAMÍLIA EUDEMONISTA
A palavra eudemonista advém da palavra “eudaimonia”, de origem grega, e tem por significado a palavra felicidade. Nesta construção do significado de tal modalidade familiar, Camila Andrade (2008 apud VIANNA,2011) dispõe que:
Eudemonista é considerada a família decorrente da convivência entre pessoas por laços afetivos e solidariedade mútua, como é o caso de amigos que vivem juntos no mesmo lar, rateando despesas, compartilhando alegrias e tristezas, como se irmãos fossem, razão para quais os juristas entendem por bem considerá-los como formadores de mais de um núcleo familiar.(ANDRADE, 2008 apud VIANNA, 2011. p. 14)
É na família que o indivíduo encontra espaço para crescer e se desenvolver na sociedade, assim, tem-se no modelo eudemonista os princípios necessários para a felicidade individual dos membros, o que ocorre pela convivência entre estes, na busca de se realizarem profissionalmente e pessoalmente. Neste sentido dispõe Maria Berenice Dias (2013):
É o afeto que organiza e orienta o desenvolvimento da personalidade e assegura o pleno desenvolvimento do ser humano. A busca da felicidade, a supremacia do amor, a vitória da solidariedade enseja o reconhecimento do afeto como único modo eficaz de definição da família e de preservação da vida.(DIAS, 2013. p. 54)
Desta forma cabe-se reforçar que, a sociedade familiar atual estrutura-se pelo afeto, e não mais pelos vínculos patrimoniais, a família eudomista concede força jurídica à afetividade.
Neste viés, aponta Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2012):
(…) afirma-se a importância do afeto para a compreensão da própria pessoa humana, integrando o seu “eu”, sendo fundamental compreender a possibilidade de que dele (o afeto) decorram efeitos jurídicos, dos mais diversos possíveis (…). Pois bem, afirmando o afeto como base fundante do direito das famílias contemporâneo, vislumbrando-se que composta a família por seres humanos, decorre, por conseguinte, uma mutabilidade inexorável, apresentando-se sob tanta se diversas formas, quantas sejam as possibilidades de se relacionar, ou de melhor, de expressar o amor.(ROSENVALD, 2012. p. 71-2)
Se entende que a família mudou sua concepção no século XX, tratando assim com mais relevância o afeto, pois socialmente o casamento não possui mais a mesma relevância na sociedade, isso pois a união com intuito de gerar prole perdeu sua força, deixando de fazer parte dos planos de muitas famílias, aonde os indivíduos estão mais voltados para as suas relações profissionais. Outro fator de relevância para tal modalidade familiar está na infertilidade de alguns indivíduos, que acabam por ter uma quantidade de filhos menor, possibilitando assim a prerrogativa para adoção.
Desta forma temos a jurisprudência, a qual vem se posicionado diante da família Eudemonista:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INVESTIGANTE QUE JÁ POSSUI PATERNIDADE CONSTANTE EM SEU ASSENTO DE NASCIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 362, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO AUTOR DO VOTO VENCEDOR. Os dispositivos legais continuam vigorando em sua literalidade, mas a interpretação deles não pode continuar sendo indefinidamente a mesma. A regra que se extrai da mesma norma não necessariamente deve permanecer igual ao longo do tempo. Embora a norma continue a mesma, a sua fundamentação ética, arejada pelos valores dos tempos atuais, passa a ser outra, e, por isso, a regra que se extrai dessa norma é também outra. Ocorre que a família nos dias que correm é informada pelo valor do AFETO. É a família eudemonista, em que a realização plena de seus integrantes passa a ser a razão e a justificação de existência desse núcleo. Daí o prestígio do aspecto afetivo da paternidade, que prepondera sobre o vínculo biológico, o que explica que a filiação seja vista muito mais como um fenômeno social do que genético. E é justamente essa nova perspectiva dos vínculos familiares que confere outra fundamentação ética à norma do art. 362 do Código Civil de 1916 (1614 do novo Código), transformando-a em regra diversa, que objetiva agora proteger a preservação da posse do estado de filho, expressão da paternidade socioafetiva. Posicionamento revisto para entender que esse prazo se aplica também à impugnação motivada da paternidade, de tal modo que, decorridos quatro anos desde a maioridade, não é mais possível desconstituir o vínculo constante no registro, e, por consequência, inviável se torna investigar a paternidade com relação a terceiro. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70005246897, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, JULGADO EM 12/03/2003).
Desta forma, nota-se que os tribunais superiores são favoráveis ao afeto como meio estrutural da entidade familiar, entendendo-se assim que, a família tem por missão buscar a felicidade interna dos membros que a compõem.
11 | FAMÍLIA MULTIPARENTAL
Atualmente o que liga a família é a presença do vínculo afetivo, o qual busca o mútuo comprometimento para o crescimento dos seus indivíduos e dentro e fora do núcleo familiar. Neste contexto surge a família multiparental, a qual nas palavras de Aline Taiane Kirch e Lívia Copelli Copatti (2013) é:
A multiparentalidade significa a legitimação da paternidade/maternidade do padrasto ou madrasta que ama, cria e cuida de seu enteado(a) como se seu filho fosse, enquanto que ao mesmo tempo o enteado(a) o ama e o(a) tem como pai/mãe, sem que para isso, se desconsidere o pai ou mãe biológicos. A proposta é a inclusão no registro de nascimento do pai ou mãe socioafetivo permanecendo o nome de ambos os pais biológicos.(KIRCH; COPATTI, 2013)
Assim, a multiparentalidade não deve ser confundida com a adoção unilateral na qual um o cônjuge companheiro do pai ou da mão do enteado adota este, o que resulta no rompimento dos vínculos jurídicos com o genitor anterior. Sendo que, na adoção unilateral não ocorre alteração da paternidade ou da maternidade do cônjuge ou companheiro do adotante, e assim, não ocorre a alteração do poder familiar.
Desta forma, a multiparentalidade surge como ferramenta essencial para reconhecer no campo jurídico o que ocorre na sociedade. Demonstrando a convivência familiar da criança e do adolescente com os pais biológicos em conjunto com a paternidade socioafetiva.
Em 2012, o Tribunal de justiça de São Paulo deferiu pedido para acrescentar na certidão de nascimento de um jovem de 19 anos o nome da mãe socioafetiva, sem ser retirado o nome da mãe biológica. A história ocorreu face que, a mãe biológica do garoto havia falecido três dias após o parto do mesmo, e quando este tinha dois anos de idade seu pai se casou novamente com outra mulher. O jovem sempre viveu harmoniosamente com o pai, a madrasta, que sempre chamou de mãe, bem como com a família de sua mãe biológica, que nunca fora esquecida. O filho que sempre conviveu entre as três famílias tem agora um pai, duas mães e seis avós registrais. (COUTINHO; NUBLAT, 2012)
Sobre o caso anteriormente citado, dispõe a jurisprudência abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL – Processo n. 0006422-26.2011.8.26.0286 – Comarca: Itu (2ª Vara Cível) – Apelantes: Vivian Medina Guardia e outro – Apelado: Juízo da Comarca – Juiz: Cássio Henrique Dolce de Faria – Voto n.443 – EMENTA: MATERNIDADE SOCIOAFETIVA Preservação – da Maternidade Biológica Respeito à memória da mãe biológica, falecida em decorrência do parto, e de sua família – Enteado criado como filho desde dois anos de idade Filiação socioafetiva que tem amparo no art. 1.593 do Código Civil e decorre da posse do estado de filho, fruto de longa e estável convivência, aliado ao afeto e considerações mútuos, e sua manifestação pública, de forma a não deixar dúvida, a quem não conhece, de que se trata de parentes – A formação da família moderna não-consanguínea tem sua base na afetividade e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade Recurso provido.
O artigo 1.593 do Código Civil dispõe que, “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”. Desta forma, se conceitua que os laços biológicos e os afetivos são importantes por igual, entretanto, em situações específicas isso muda, tornando os laços afetivos superiores aos laços consanguíneos. Isso ocorre porque, a afetividade é o elo mais forte que existe entre os indivíduos, afinal, são eles que mantém a família unida por intermédio do amor, do respeito e da solidariedade.
O mencionado artigo 1.593 do Código Civil encontra vínculo ao artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, o qual dispõe que “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.”
Desta forma, justificando a importância do afeto e sua força maior em relação ao vínculo biológico, dispõe Paulo Lobô (2011. p. 273) que “a filiação não é um dado da natureza, e sim uma construção cultural, fortificada na convivência, no entrelaçamento dos afetos, pouco importando sua origem”.
Neste viés, ressalta-se que em decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na data de 21 de setembro de 2016 no Recurso Extraordinário nº898.060/SP, o qual analisava prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica, o órgão julgador optou por não afirmar nenhuma prevalência entre as referidas modalidades de vínculo parental, apontando para a possibilidade de coexistência de ambas as paternidades.
Isso significa que, uma pessoa pode ter em seu registro um ou dois pais, se estendendo o entendimento para a maternidade, e assim, resguardando ao indivíduo todos os direitos existenciais e patrimoniais; desta forma, em hipóteses de um indivíduo ter sua mãe divorciada do pai socioafetivo, este poderá requerer alimentos tanto do pai consanguíneo quanto do socioafetivo. Resguardando o entendimento também para a sucessão, na qual o filho socioafetivo participa como herdeiro necessário do pai biológico e também do socioafetivo.
12 | CONCLUSÃO
Ao longo deste artigo, trouxemos à tona algumas das configurações familiares mais comuns no cotidiano jurídico — como o casamento, a união estável, e os vínculos parentais oriundos de relações anteriores. No entanto, cumpre reconhecer que a noção de família no Brasil é dinâmica e plural, e o Direito, ainda que um pouco mais lento, caminha para compreender e, eventualmente, regulamentar novas formas de afeto e convivência.
Famílias poliafetivas, compostas por mais de duas pessoas unidas por laços simultaneamente afetivos e duradouros, bem como as chamadas famílias multiespécies, que consideram os animais domésticos como integrantes legítimos do núcleo familiar, são exemplos contemporâneos dessa evolução. Embora ainda envoltas em zonas de sombra jurídica, essas modalidades de família clamam por estudo, reflexão e regulamentação adequada, o que será oportunamente tratado em artigos próprios, dedicados exclusivamente a tais temas.
Para aqueles que desejarem aprofundar-se nas bases teóricas e jurídicas dessas formas de convivência, aqui elencadas, indico a leitura do Trabalho de Conclusão de Curso deste advogado, intitulado: “A Possibilidade de Regulamentação das Relações Poliafetivas no Ordenamento Jurídico Brasileiro”, publicado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Nele, constam as referências doutrinárias, jurisprudenciais e legislativas que embasaram as reflexões aqui lançadas, com a densidade acadêmica que o tema exige e a sensibilidade que ele merece.